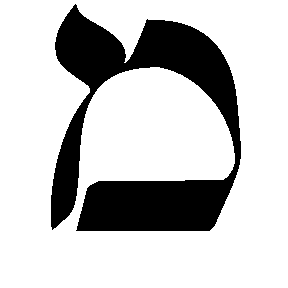“Total Inexistência do pensamento emancipado da realidade. Realidade intermediada pela linguagem. Linguagem imbuída de símbolos”.
sábado, 30 de junho de 2012
O Ressurgimento da língua hebraica
Trabalho apresentado para a obtenção de nota na disciplina Hebraico I, ministrada pelo professor Ivaldo, do Setbal - Seminário Teológico Batista de Alagoas. Trabalho baseado no artigo "RENASCIMENTO DO HEBRAICO: A BUSCA PELA IDENTIDADE DE UM POVO" de autoria de Thiago Humberto do Nascimento (USP).
A reconstrução da língua hebraica passou por diversos fatores (sociológicos, políticos, educacionais, etc.). Na verdade, todos estes fatores caminhavam de mãos dadas numa única direção: a construção do Estado de Israel, e de sua identidade como nação e povo, com suas peculiaridades históricas e culturais – características comuns a qualquer nação existente. O judeu Eliezer Bem Yehuda (1856-1927) foi o maior dos idealizadores e defensores da língua hebraica como língua oficial dos judeus. Para ele, “o povo judeu deveria desvincular-se das línguas nacionais e empregar uma língua comum que entesourasse as memórias históricas e culturais do povo judeu, e que fosse empregada por todas as camadas do povo” (NASCIMENTO, 2005, p. 144). Embora o autor Thiago Nascimento – a quem uso como fonte para a presente pesquisa – tenha atribuído esta particularidade à característica nacionalista européia, discordo deste pensamento, haja vista que em todas as nações existentes sempre há intelectuais ortodoxos que defendem com “unhas e dentes” a manutenção da cultura e de suas manifestações frente ao avanço da globalização – que põe diversas culturas em constante choque e/ou intercâmbio. Yehuda, na verdade, pretendeu que o uso do hebraico fosse um ponto em comum entre o povo judeu, pois, em sua visão, a língua é o principal atributo de uma nação.
Historicamente, o povo judeu utilizou o hebraico como língua falada até o período de exílio da Babilônia (aproximadamente 586 aC), quando passou a falar a língua as línguas nacionais em que se fixaram. Apesar do abandono da língua falada, mas mantiveram suas tradições através da tradição, cultura e religiosidade pela escrita em hebraico. Em outras palavras, mantiveram a identidade com o uso do hebraico. Esse uso ininterrupto na escrita, propiciou a integração do povo judeu – embora exilados em diversos países e mormente recebendo fortemente a cultura destes países, o que é natural. Como podemos observar, foram fatores não lingüísticos, mas sim políticos e culturais, que proporcionaram o uso do hebraico como língua que identifique um povo em detrimento dos povos e nações em que estavam inseridos. Não deixa de ser uma forma de sectarismo, que os diferenciassem das nações em que estavam exilados:
“os imigrantes estavam determinados a construir para si uma nova vida, diferente daquela que levavam na Rússia, e estavam dispostos a qualquer renovação que os afastasse da assimilação na Europa e que os aproximasse de uma existência cultural judaica autônoma”. (NASCIMENTO, 2005, p. 148).
Embora exilados – e isso é uma característica que observamos até hoje – os judeus sempre procuram formas de se diferenciarem das nações em que estão inseridos. Isso se observa não apenas pela manifestação religiosa – fator preponderante na sua distinção como povo – mas também através de outras manifestações culturais (como a música, dança, culinária e cumprimentos na língua hebraica).
Mas do ponto de vista lingüístico, vemos que não houve um ressurgimento do hebraico de forma pura, como pretendiam os lingüistas ortodoxos (Eliezer Yeruda é um exemplo clássico). Isso se deu por alguns fatores. O primeiro deles – e o mais natural, comum a todas as nações –, é que a língua não pode nunca ser vista como um fator estático, isolada das mudanças sociais e culturais. Ao contrário, a língua se desenvolve juntamente com a sociedade, tornando-a dinâmica, assim como é dinâmica as transformações sociais. Tais transformações contribuíram para que palavras novas surgissem na gramática hebréia. O segundo fator (e não menos importante), é que o povo judeu se encontrava – como até se encontra – disperso em várias nações. O contato permanente com as culturas das nações em que estão inseridos se torna preponderante para o surgimento de novas palavras, e até mesmo na contextualização de palavras já existentes, que passam a ter um significado diferente (o termo “bicha” é um exemplo clássico para diferentes significações entre o português brasileiro e o de Portugal). O mesmo pode ocorrer com alguns termos hebraicos. Shalom, por exemplo, entre os judeus (e não judeus) brasileiros, é uma saudação em que se deseja “paz” ao outro; já entre os Israelitas (considerando a nação) passa a ter um significado mais contundente, que vai além de simplesmente “um desejo de paz”.
Mas vale salientar que quando falamos em ressurgimento da língua hebraica, não significa necessariamente dizer que ela já estava extinta, morta. Como pudemos ver, o seu uso era bastante comum na forma escrita, como manutenção da identidade e de comunicação entre um povo. O termo pode significar também o impedimento de seu declínio. No caso do hebraico, trata-se de seu ressurgimento como língua falada, e não extinta. Como métodos utilizados para que se pudesse haver êxito na pretensão de ser ter o hebraico como língua falada, seu uso foi bastante utilizado no seio familiar, no círculo de amizades, e principalmente na sala de aula – local considerado, em detrimento das demais, como a mais eficaz. O completo êxito no ressurgimento da língua hebraica como língua falada, deu-se ao nascerem as primeiras crianças falantes nativas do hebraico, no seio das famílias que a falavam, sendo assim educadas nesse idioma, sem nunca terem conhecido outra língua que não o hebraico.
Como já dito, o fator político também foi preponderante. O estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, conferiu ao hebraico o status de língua oficial e ao mesmo tempo uma posição reconhecida internacionalmente.
Embora já se tenha o status de língua oficial da nação israelense, mas deve-se deixar bem claro que o hebraico falado ainda mantém uma certa distância do hebraico escrito, considerado mais erudito. Essa diferenciação se deu pelo fato de que, quando o hebraico se tornou a língua de comunicação de todas as classes de pessoas (juventude, dos não instruídos, de todos os setores de atividade, escapou-se forçosamente do zelo dos escritores e dos gramáticos cautelosos, alterando assim a estrutura das línguas vivas. Chaim Rabin, vem nos dizer que,
“quer estas alterações no hebraico tenham sido causadas pela ignorância de parte dos falantes, quer seja pela influência das línguas estrangeiras que falavam anteriormente, [...] ou por forças geradas dentro da própria língua, o fato é que a língua falada se distanciou da língua da literatura” (RABIN et apud NASCIMENTO, 2005, p. 150).
Toco mais uma vez no ponto de que o constante contato com outros idiomas, motivado pela globalização, propicia mudanças em qualquer outra língua. Portanto, esta particularidade não cabe apenas ao hebraico, mas sim a todas as línguas, principalmente aos países que tem o seu capital cultural e econômico aberto a outras nações. Com o peso da globalização, compactuo com a idéia de que não é possível uma pureza cultural e lingüística de uma nação.
BIBLIOGRAFIA
NASCIMENTO, Thiago Humberto do. Renascimento do hebraico: a busca pela identidade de um povo. SOLETRAS, ano V, Nº 09. São Gonçalo: UERJ, jan./jun., 2005.
A "Alta" e a "Baixa" crítica
Trabalho apresentado para a obtenção de nota na disciplina "Introdução Bíblica", ministrada pela professora Lourdes Torres, do Setbal - Seminário Teológico Batista de Alagoas. Trabalho baseado nos livros Curso vida nova de teologia básica – introdução à Bíblia, de Laird Harris, e Introdução bíblica – como a bíblia chegou até nós, de Norma Geisler e William Nix.
Críticas à respeito das escrituras sempre existiram. Antes mesmo de Cristo, fariseus e saduceus brigavam pela real interpretação das escrituras (Torah, Neebim e Ketubim). Com a popularização das escrituras (Antigo e Novo testamentos), houve a diversificação de interpretações e métodos de interpretação, jogados sobre as escrituras ao longo dos tempos. Com a impressão das escrituras, houve a facilitação ao acesso ao seu conteúdo, facilitando o surgimento de mais estudiosos e críticos das escrituras. Dentre estes estudiosos, destacam-se os da “Alta Crítica”, que contribuíram com uma crítica racionalista – e esvaziada de zelo – das escrituras. Suas críticas trouxeram grande incômodo à Teologia ortodoxa, pois destruíam (ou pretendiam destruir) algumas crenças asseguradas pela Tradição e pela historiografia ortodoxa.
Dentre suas teorias, há o de que alguns livros da bíblia não foram escritos pelos homens mencionados nos próprios livros como seus autores. Afirmam que esses livros não foram escritos nas datas estimadas, bem como foram formados por vários documentos de diferentes datas.
Começando pela ordem cronológica, o Veterotestamento foi, digamos, a primeira vítima desta corrente teológica (ou seria antiteológica?). Em 1753, o francês Jean Astruc defendeu a idéia de que o livro de Gênesis teve duas fontes diferentes. Isto porque o nome “divino” aparece como Elohim ou YHWH. Segundo essa linha, isso fez com que Moisés tivesse usado duas fontes escriturais diferentes, ou seja, livros existentes anteriormente ao surgimento do livro de Gênesis. Mais tarde, escritores racionalistas franceses e alemães ampliaram a teoria “Astrucquiana”, e disseram que o Pentateuco foi uma obra construída uma época posterior a Moises. Outro teólogo, Wellhausen, corroborou com essa teoria, ao afirmar que “nenhum dos textos do Pentateuco foi escrito por Moisés e estimou que todo o registro relativo aos sistemas sacerdotal ou às leis sacrificiais foi compilado por homens que viveram mil anos depois de Moisés” (HARRIS, 2010, p. 101).
Mas sua crítica em relação ao Pentateuco não se limita apenas a negar a autoria mosaica do mesmo, mas também a acontecimentos históricos narrados em seus escritos. Como exemplo, pode-se citar a existência, ou não, do tabernáculo no deserto; afirmam que esse relato foi inventado por sacerdotes do período pós-exílico. Outra grave afirmação desta corrente teológica, foi a de que Deus não se revelou ao povo da antiguidade como o único Deus. Para eles,
“os patriarcas da época de Abraão eram animistas simplórios (adoradores de pedras e árvores). Já nos tempos de Moisés teriam sido politeístas (adoradores de muitos deuses). Afirmaram também que Davi foi henoteísta (alguém que crê que toda nação tinha seu deus particular” (HARRIS, 2010, p. 101).
Mas suas críticas foram além do Pentateuco. Para eles, o livro de Isaías foi escrito supostamente por três ou mais indivíduos, refutando assim a profecia da chegada de Ciro com 175 anos de antecedência. Conforme seus ensinos, isso teria sido registrados por Deutero-Isaías, que viveu durante o reinado daquele monarca. Assim, tratavam como registro da história antiga e não como profecia.
Embora seus ensinos tentem refutar as verdades bíblicas, mas a maior prova da veracidade das escrituras veterotestamentárias são dadas pelo próprio Senhor Jesus, quando afirmou que o “testemunho do Antigo Testamento (AT) era mais convincente do que o de alguém que ressuscitasse dos mortos (Lc. 16.29-31)” (HARRIS, 2010, p. 102).
Podemos enxergar a alta crítica como fruto do modernismo liberal surgido no Iluminismo, no século das luzes (XVIII). Destaque para a escola alemã, que, no início do séc. XX infectou vários estudantes de teologia que iam à Europa estudar. Dentro da alta crítica há a “nova crítica” que, dentre seus principais ensinos, afirmam que as tradições hebraicas foram passadas de forma oral. Ao nosso ver, há fragilidades nesse argumento: 1) Não necessariamente a tradição oral deve ser vista como uma forma fraca de passagem de ensinamentos ao longo das gerações. Em detrimento à forma escrita, pode até ser vista como mais frágil e a mercê de influências ideológicas. Mas até a própria escrita tem seus perigos, tendo em vista a diversidade de interpretações que podem existir ao longo dos séculos, de acordo com os valores culturais e ideológicos hegemônicos de uma dada região geográfica. 2) Os hebreus tinham (e ainda tem com os judeus) escribas que preocupavam-se só, e somente só, em descrever e guardar os ensinos e acontecimentos de sua época.
Mas felizmente, desde 1920, que arqueólogos vêm fazendo novas descobertas que confirmam os ensinos dos teólogos cristãos ortodoxos.
Quando falamos de “alta crítica”, ficamos a perguntar da existência de uma “baixa crítica”. Sim, ela existe, e Norman Geisler e William Nix fazem essa distinção:
“Quando se aplica o julgamento dos estudiosos à autenticidade dos textos bíblicos, esse julgamento se chama alta crítica ou crítica histórica. O assunto desse tipo de julgamento dos especialistas diz respeito à data do texto, seu estilo literário, sua estrutura, sua historicidade e sua autoria. [...] Quando o julgamento dos estudiosos se aplica à confiabilidade do texto bíblico, ela é classificada como baixa crítica ou crítica textual. A baixa crítica se aplica à forma ou ao texto da bíblia, numa tentativa de restaurar o texto original (...) estuda a forma das palavras de um documento, e não seu valor documental” (GEISLER e NIX, 1997, pp. 155/157).
O olhar da alta crítica sobre o Novo testamento (NT) também foi devastador ao ensino ortodoxo. Eles negaram a autoria de Paulo da maior parte das cartas a ele atribuídas (GEISLER e NIX, 1997). Concluíram que só poderiam ser atribuídas a Paulo as cartas de Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios).
Em detrimento à alta crítica, o trabalho desenvolvido pela baixa crítica é considerado construtivo, pois fazem a análise das formas e dos textos bíblicos sempre levando em conta o zelo pelas escrituras. Seu trabalho não pode ser desaprovada pela ortodoxia simplesmente porque muitos da alta crítica também abraçaram a crítica textual. Os críticos textuais não podem ser vistos como “modernistas” – conceito aplicado aos da alta crítica. Isso seria o mesmo que “jogar o bebê junto com a água do banho”. Até porque, o escopo de análise da baixa crítica não é de ordem doutrinária, mas de ordem técnico-científica, ou seja, de metodologias de pesquisas aplicadas às críticas literárias.
A crítica textual foi assim desenvolvido (em referência ao NT):
1) Período de reduplicação (até 325): Com a tentativa, por parte dos estudiosos de Alexandria, de restaurar os textos dos poetas e pensadores gregos, veio à luz a Septuaginta (a versão grega do AT entre 280 e 150 a.C.). nesse período não houve nenhuma crítica textual, tão somente a reduplicação dos manuscritos. Com o tempo, foram-se perdendo as cópias mais antigas, porém, antes de perecerem, foram providenciadas cópias que circularam pelas igrejas do séc. I. À partir do momento em que foram feitas outras várias cópias, erros foram aparecendo e se misturando com as verdades. Isso ocorreu pelo fato de muitas dessas cópias terem sido feitas sem a revisão de um escriba. A qualidade da cópia dependia da capacidade do escriba (GEISLER e NIX, 1997).
Com o passar dos anos, a perseguição à igreja de Cristo foi tomando cada vez mais corpo, principalmente com o fim do período apostólico. As perseguições dos imperadores Décio e Diocleciano, por exemplo, não apenas destruíam as vidas dos cristãos, como também as escrituras. Por conta desta perseguição, e para não correr o risco dos cristãos ficarem sem livro sagrado, os cristãos faziam cópias, com a maior rapidez possível. Esse fato fazia com que, inevitavelmente, os erros aparecessem.
2) Período de padronização (325-1500): Após o fim da perseguição, com a promulgação do Édito de Milão (313), houve uma melhora significativa na qualidade dos manuscritos. Até porque foi o período em que ocorreu a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. O próprio imperador solicitou a Eusébio de Cesareia, 50 exemplares das escrituras cristãs, e isso fez com que houvesse um novo tempo na história do NT. Com o decorrer dos séculos, já no século XII, houve a abundância quantitativa das escrituras, por começarem a ser impressos em papel (com letras cursivas).
3) Período de cristalização (1500-1648): Cristalização, ao nosso entender, foi o processo de imprensa dos manuscritos, tomando a forma de letras não cursivas, própria da manuscrita. Com o advento da imprensa, por Joahnn Gutemberg, em 1454, tornou-se mais fácil a “produção” de escritos em várias línguas simultaneamente, como por exemplo: a Poliglota complutense (1514-17), a Poliglota Antuérpia (1569-72), a Poliglota de Paris (1629-45) e a Poliglota de Londres (1657-69) (Cf. GEISLER e NIX, 1997).
A primeira edição do NT a ser publicada, se deu com o humanista holandês Erasmo de Roterdã, no século XVI. Foi publicado em grego. Foi um trabalho feito às pressas, o que fez com que contivesse inúmeros erros tipográficos e mecânicos. Além disso, essa versão não se baseou nos manuscritos primitivos, mas por textos que não passaram por revisões confiáveis, o que trouxe descrédito a esta versão. Mesmo assim, a segunda edição desta obra tornou-se a base pela qual Lutero utilizou-se para a tradução para o alemão.
4) Período de crítica e de revisão (1648 até o presente): Com o fim da era da Reforma, a bíblia passou por um período de crítica e revisão, que se deu (e ainda se dá), dentre as quais destacamos dois períodos:
a) Período de progresso (1831-1881) – Foi quando se deu o agrupamento dos textos, e com isso a crítica construtiva desses textos. Também foi nesse período em que primeiros se comentou a bíblia, feito por Henry Alford (1810-1871) que “deitou por terra a reverência pedantesca e indevida ao texto recebido” (GEISLER e NIX, 1997, p. 165).
b) Período de purificação (1881 até o presente) – Foi um período em que houve a reação contra a “teoria genealógica” de Westcott e Hort que dividiu os textos em quatro tipos: siríacos, ocidentais, neutros e alexandrinos. Os argumentos podem ser resumidos da seguinte forma:
“b1) o texto tradicional utilizada pela igreja durante 1500 anos deve ser correto por causa de sua durabilidade; b2) o texto tradicional possuía centenas de manuscritos que lhe eram favoráveis, enquanto o texto crítico só possuía uns poucos dos primitivos; e b3) o texto tradicional é melhor porque é mais antigo” (GEISLER e NIX, 1997, p. 167).
BIBLIOGRAFIA
HARRIS, R. Laird. Curso vida nova de teologia básica – introdução à Bíblia. São Paulo: Ed. Vida Nova, 2010.
GEISLER, Norman, NIX, William. Introdução bíblica – como a bíblia chegou até nós. São Paulo: Ed. Vida, 2006.
Qual é a nossa esperança?
Trabalho apresentado para a obtenção de nota na disciplina "Introdução à Teologia", ministrada pelo professor Eduardo Vasconcelos, do Setbal - Seminário Teológico Batista de Alagoas. Trabalho baseado no capítulo 7 do livro "Introdução à Teologia", dos autores Justo González e Zaida Pérez.
O capítulo VII do livro do livro Introdução à Teologia Cristão, intitulado “Qual é a nossa esperança?”, dos autores Justo González e Zaída Perez, traz, ao meu ver, o assunto da Escatologia sob uma perspectiva diferente das que tem se manifestado em livros, filmes e pregações de muitos cristãos – independente da época vivenciada. Isto porque os autores não trazem a escatologia sob a ótica do “medo”, procurando atemorizar seu leitores, tamanho o temor e mistério inerente ao assunto; mas sim sob a ótica do verdadeiramente salvo, onde a volta de Cristo é motivo de regozijo e sobretudo esperança, e não de temor.
A palavra escatologia é oriunda de dois termos gregos que unidas significa “a ciência dos últimos dias”. Dentro desta ciência (ou disciplina), há varias vertentes explicativas dos acontecimentos que antecederão a volta de Cristo. O “dispensacionalismo”, por exemplo, é “uma doutrina que divide as intervenções de Deus na história em uma série de 7 períodos ou ‘dispensações’” (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, p. 222). São eles, à saber (conforme entendimento dos dispensacionalistas “pré-milenistas”):
GRAÇA → GRANDE TRIBULAÇÃO → RETORNO DE CRISTO → O MILÊNIO (Ver Apocalipse cap. 20) → CONFRONTO ENTRE O BEM E O MAL → ARMAGEDON → JUÍZO FINAL.
No século XX, o dispensacionalismo moderno apareceu na obra de John N. Darby, que sistematizou este acontecimento citado no quadro acima. Esta doutrina fundamenta-se no capítulo 20 de Apocalipse, onde repetidamente se fala em “mil anos” dos versículos 1 ao 7. Tal doutrina foi popularizada graças à Bíblia de Scoffield, publicada em 1909 (cf. Gonzáles e Pérez, 2006).
Porém, como dito no primeiro parágrafo, o tema central da escatologia deve ser a esperança. Deve-se haver um entendimento destes acontecimentos, por parte de nós cristãos, para que possamos estar preparados a “... responder a todo aquele que vos pedir explicação da esperança que há em [nós]” (1Pe. 3.15). Portanto, deve-se haver uma ligação entre entendimento e esperança. São duas coisas que devem andar juntas na vida do cristão, para nos tornar aptos a explicar os acontecimentos vindouros dos últimos dias.
Mas, não se poderia falar de escatologia sem também tratarmos do Reino de Deus. Isto porque há uma inclinação de grande parte daqueles que se propõem à estudar a Bíblia, de que o Reino de Deus se refere ao lugar (geográfico) celestial. Como um Reino distante (confesso que também pensava assim, antes de ter meu entendimento aberto por este capítulo). Este Reino também se aplica ao mundo terreno, pois não se refere a um lugar, mas sim a uma outra ordem (p. 230) que abrange tudo – céu, terra, corpos e espíritos. Começou com Cristo (com a sua pregação), continuou com a Igreja apostólica e continua (ou deve continuar) com a igreja contemporânea. A idéia de que o “Reino dos céus” é um outro lugar, vem dos ensinamentos gnósticos, mais especificamente da filosofia platônica. Isto porque,
“Platão havia afirmado que, acima deste mundo onde tudo passa e onde as coisas nos enganam, há outro mundo de ‘ideias puras’, quer dizer, de realidades últimas que não mudam, nem passam. Quando os primeiros cristãos saíram pelo mundo Greco-romano pregando sobre uma vida eterna, essa doutrina platônica acabou sendo um forte argumento apologético em defesa da esperança cristã de uma vida eterna e de um reino de Deus. Infelizmente. Uma das conseqüências de tudo isso foi que muitos cristãos se acostumaram a pensar no Reino de Deus como uma realidade ‘lá de cima’, no ‘mais distante’, e não como uma promessa futura” (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, p. 231).
Isto explica o “porquê” de grande parte do cristianismo contemporâneo entender o Reino de Deus (ou Reino dos céus, usado por Mateus para não infringir o mandamento do “não tomar o nome de Deus em vão”) não simplesmente como um lugar, mas um lugar distante.
Esse errôneo entendimento de que o Reino de Deus é um lugar puramente espiritual, onde somente as coisas espirituais importam, fez com que houvesse o distanciamento da igreja pelas causas materiais, tais como as políticas e econômicas, que afligem diretamente as vidas dos menos favorecidos. Este entendimento não apenas cegou os cristãos hodiernos, como também anestesiou seus espíritos para as causas sociais. Isto me faz cogitar que este entendimento errado ajudou no esfriamento de nosso amor, tornando-nos coniventes com o aumento da iniquidade (Mt. 24.12), pela nossa inércia frente às injustiças sociais que acontecem debaixo de nossos narizes.
O alcance da transformação política e social deste Reino passa pelo revesso do que tem sido feito pelo reino mundano (ou dos homens). O Reino de Deus chega mesmo a ter a lógica anversa ao que se tem praticado no reino dos homens. A bíblia nos mostra que a paz existente no Reino de Deus será tamanha, que até “o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito...” (Is. 11.6). Ou seja, a paz mudará até o mundo natural do reino animal. No reino humano, por sua vez, o conceito de paz é tão somente ausência de guerra, e, muitas vezes, para se estabelecer paz em um território ou nação, fazem-na por meio de guerras, o que contradiz o conceito de paz em sua essência.
Vale ressaltar que o conceito de Reino traz em si um significado político, pois a palavra “reino” e “cidade” são termos políticos. Vejamos:
“De fato, a própria palavra ‘política’ vem da raiz polis, que quer dizer cidade. Quando lemos hoje em Apocalipse que João viu uma nova cidade, pensamos em um lugar onde há muita gente. Qualquer centro urbano recebe o nome de cidade. Mas esse não era o sentido da palavra no primeiro século. A polis, a cidade, era uma unidade política, um estado [...] Boa parte do livro de Apocalipse pode ser lido como o conflito entre duas cidades ou duas ordens políticas: o de Roma atual [...] e o da nova Jerusalém, onde Deus há de governar” (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, pp. 236/237).
O que deixa evidenciado a diferença política (ou de governo) entre o sistema político que oprimia o povo judeu (adotado pelos romanos) e o “deste mundo” (Mt. 13.40) – referindo-se à política romana – é que este caracterizava-se pelo abuso de poder e pelo interesse próprio (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006). Já aquele, não apenas preocupava-se com os rejeitados e os necessitados, como também ensinou a “grandeza de servir”. Não resta dúvida de que se este preceito fosse culturalmente aceito pela humanidade (independente de ser ocidental ou oriental) não haveria tantas diferenças sociais como vemos hoje.
O estabelecimento da polis romana se dava num contexto onde era comum e mais forte o conceito de comunidade entre os judeus – principalmente entre os judeus camponeses –, onde, por exemplo, se a terra de alguém não tivesse a produtividade esperada, suficiente para o sustento de sua família, outros camponeses vizinhos o socorriam, não deixando passar por necessidade. Com o domínio romano – e a imposição da cultura do “ser servido” – os agricultores e artesãos passavam a se preocupar tão somente com o pagamento dos altos impostos cobrados. Isso resultou na diminuição, ou mesmo aniquilação, do conceito de comunidade entre os judeus (Cf. Mesters). Isso mostra que política e ideologia estão imbricadas uma a outra; e que, com o estabelecimento da primeira, há a mudança de mentalidade propulsionada pela segunda. Com o Reino de Deus não é diferente – embora devamos ter o cuidado de não confundir o evangelho com uma mera ideologia humana, pois o evangelho é o “poder de Deus” (Rm 1.16). Seus ensinamentos de amor, paz, equidade e justiça propulsionam práticas que vão estabelecer o modus operandi da comunidade que os aceitam. Assim, se o Reino for caracterizado pelo amor, a vida cristã há de ser vida de amor; se for ensinado a paz, todo o movimento de contenda deve ser redirecionado para a paz; se for vivida a justiça, o cidadão do Reino de Deus lutará contra toda injustiça “neste século” (GOZÁLEZ e PÉREZ, 2006).
Mas falar em escatologia é falar também de vida eterna. De início, deve-se deixar bem claro que a doutrina da imortalidade da alma não é doutrina cristã, muito pelo contrário, em São Tiago 5.20, lemos: “Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados”. Essa doutrina ganhou ares quando o cristianismo começou a ser pregado no mundo greco-romano e, com o intuito de convencer os greco-romanos de que o ensinamento da vida após a morte não parecesse tão absurda, começaram a relacioná-la à filosofia socrástica e platônica da imortalidade da alma. Muito embora o homem tivesse sido criado por Deus originariamente para a imortalidade, com a queda no Éden, esse atributo foi retirado do homem.
Destarte, aos olhos da bíblia, para se obter a vida eterna – que culmina após a ressurreição do corpo – é preciso que se creia que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e que por meio de seu sacrifício na cruz, todos os que receberem de Deus a fé – o dom que nos é dado por Deus (Ef. 2.8) – obterão como graça este outro dom, de forma gratuita (Rm 6.23). Porém, aqueles que não receberam este dom (ou que não quiseram receber, conforme a interpretação Arminiana) irão receber as duras palavras: “Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mt. 25:41). O termo “fogo eterno” tem está associado ao inferno. A palavra
“’inferno’ vem da mesma raiz que ‘inferior’, e simplesmente quer dizer ‘o lugar de baixo’. Isso se originou na visão que a antiguidade tinha de um universo em três pisos. A terra na qual vivemos é o piso intermediário, por cima está o céu e em baixo, os lugares ‘inferiores’, ou seja, o inferno. [...] No Novo Testamento, as palavras mais comumente empregadas para referir-se ao inferno são ‘guehenna’ e ‘hades’. A primeira deriva-se de Hinom onde os gentios sacrificavam crianças no fogo, em honra a Moloc. A sgunda refere-se ao lugar dos mortos, como o sheol em hebraico’”. (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, p. 249).
Embora haja a clareza das escrituras sobre os dois destinos existentes para nossas almas, mas uma corrente teológica denominada “universalismo”, apregoa que o sacrifício de Cristo valeu para toda a humanidade – indistintamente de sua fé. Origens foi um dos patrísticos que mais sustentou esta linha interpretativa. Segundo sua visão,
“o fogo da condenação não é eterno, mas é antes como um fogo purificador, cujo propósito é fazer os pecadores dignos da presença de Deus. Posteriormente, todos se salvarão – e isso não inclui somente os pecadores humanos, mas até os demônios, pois, de outro modo, o poder de Deus ficaria frustrado” (GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, p. 250).
As passagens bíblicas mais usadas para esta interpretação são:
“Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida” (Romanos 5:18).
“Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo” (1 Coríntios 15:22).
Para a existência do inferno, há três posições distintas:
- Que a condenação eterna contradiz esse amor;
- Que a salvação manifesta seu amor, enquanto que a condenação manifesta sua justiça, pois a sua justiça não pode ser burlada;
- Em Deus, o amor e a justiça concordam de um modo misterioso que nossa mente não consegue compreender.
Mas, independente da existência da condenação eterna, o nosso interesse em Deus deve existir motivado não pelo medo do inferno, mas sim pelo reconhecimento do seu sacrifício na cruz do Calvário, que, movido de amor, se entregou por nós, indignos pecadores. Toda nossa obra em prol do seu reino, a entrega de nossa vida deve ser impulsionada pelo amor e não pelo medo. Em suma, a frase abaixo, diz tudo:
“Move-me, enfim, teu amor, de tal maneira que mesmo se não houvesse céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, temer-te-ia”
(Cristão anônimo do séc. XVI apud GONZÁLEZ e PÉREZ, 2006, p. 252).
BIBLIOGRAFIA
GONZÁLEZ, Justo L., PÉREZ, Zaida M.. Introdução à teologia cristã. São Paulo: Hagnos, 2006.
MESTERS, Frei Carlos. Com Jesus na Contramão. São Paulo: Paulinas, 1995.
http://www.bibliaonline.com.br/
Assinar:
Postagens (Atom)